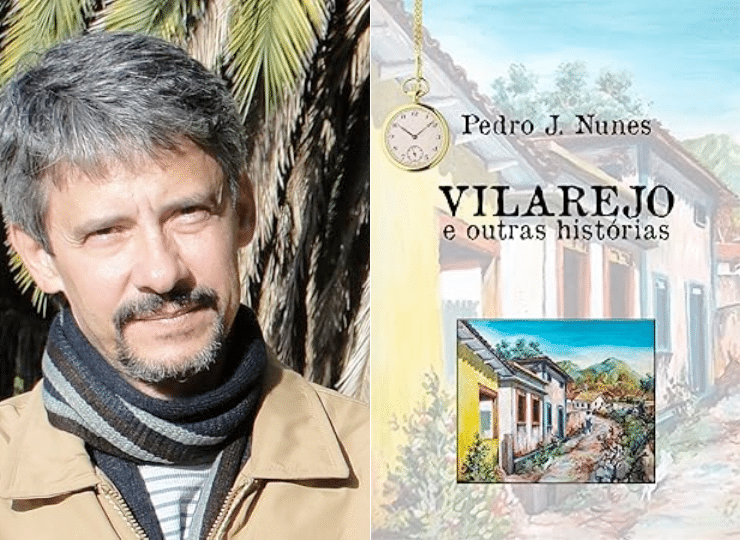Por João Gualberto
No dia 12 de agosto de 1834 foram criadas, pela Regência Permanente e em nome do Imperador do Brasil, por um ato adicional à Constituição, as Assembleias Legislativas Provinciais, fato muito importante na nossa então nascente democracia. A emenda constitucional substituiu os Conselhos Gerais de Província pelas Assembleias, ampliando assim a participação dos cidadãos na gestão de sua unidade regional.
Isso não era pouco naqueles tempos. Foi um passo decisivo na construção de um sistema político mais participativo no Brasil. Em um país que iniciava os seus passos com a independência, construir autonomias regionais era fundamental para reduzir o nível de centralização, sempre grande no Império.
O número de deputados em cada uma das Assembleias foi estabelecido no mesmo ato adicional que criou as instituições. A do Espírito Santo tinha 20 membros eleitos. O processo eleitoral nesses primeiros tempos do país independente tinha seus limites. Para ser considerado apto a votar o cidadão deveria pertencer ao sexo masculino e ter no mínimo 25 anos. Havia ainda a exigência de uma renda mínima para ser eleitor. O montante da renda exigida para o voto variou no tempo durante o Império. Apesar dessas restrições, entretanto, a criação da Assembleia Legislativa Provincial foi um passo decisivo para que tivéssemos políticas públicas mais legítimas e com maior representatividade social.
É certo que no período colonial já tínhamos eleições para as câmaras de vereadores, verdadeira gênese da democracia brasileira, que estão vivas até hoje. Elas tiveram um papel importante na construção do poder local no Brasil, já que eram de sua responsabilidade os governos nos nossos municípios desde o século XVI, ainda no início da colonização. Foram também as responsáveis pelas políticas públicas, pela governança e, não menos importante, pelo reconhecimento dos fidalgos, das nascentes elites em nosso país.
A criação das Assembleias Legislativas se dá em outro contexto, muito mais complexo, no qual o papel dos cidadãos na gestão do espaço político era a tônica, e o regime vigente no Brasil bem sabia disso. O fato é que a cidadania se ampliou em relação à colônia, quando era estrita aos denominados “homens bons”, os fidalgos, “filhos de algo”, pessoas consideradas importantes por seu poder simbólico, pertencentes a uma família nobre ou detentores de um título de nobreza.
A autonomia das Assembleias retirou força das câmaras, contribuindo para a criação de um olhar e de uma política mais regional. Essa foi a grande virada política do século XIX, um passo gigante na nossa nacionalidade.
As Assembleias Legislativas ganharam papel importante desde o início de suas atividades, tanto do ponto de vista simbólico quanto da gestão do cotidiano das províncias. A criação das Assembleias, porém, significou não só a consolidação da ampliação da cidadania no século XIX, mas também a mudança do eixo político das forças locais para as províncias, antes concentradas nas câmaras municipais.
Elas ganharam papel importante desde o início de suas atividades. Vou citar apenas algumas medidas para termos uma ideia de como, ainda no século XIX, muitas leis foram aprovadas com visão social, como a de número 04, de 1835, que criou, em Vitória, a primeira escola para meninas da província.
É importante registrar que a concessão de bolsas de estudos se tornou uma prática constante dos parlamentares nas décadas seguintes. Os deputados aprovavam o financiamento dos estudos de jovens nas faculdades do Império com bolsas para os cursos de Direito, Farmácia, Medicina. Outra lei importante foi a de número 25, de 4 de dezembro de 1869, que concedia liberdade a meninas escravas de 5 a 10 anos de idade. Já um decreto de 1869 criou as escolas noturnas, visando à educação das camadas populares, inclusive os libertos, mostrando uma tendência das últimas décadas do XIX.
Já no século XX – portanto, na República – nossa Assembleia Legislativa foi palco de discussões sobre o desenvolvimento regional, como por exemplo no traçado e na construção de nossas ferrovias e portos. Seu protagonismo foi crescente e o é até os nossos dias. Festejar esses quase dois séculos de existência é importante no reconhecimento de nossa memória democrática. Muito bem faz seu atual presidente, o deputado estadual Marcelo Santos, em criar um projeto com essa finalidade, afinal o dia 12 de agosto é uma data a ser mesmo lembrada e comemorada.
Em uma sociedade como a nossa, que de tempos em tempos é assombrada pela presença de desejos autoritários, a memória democrática e o exercício da cidadania devem ser sempre lembrados, como fez agora a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.